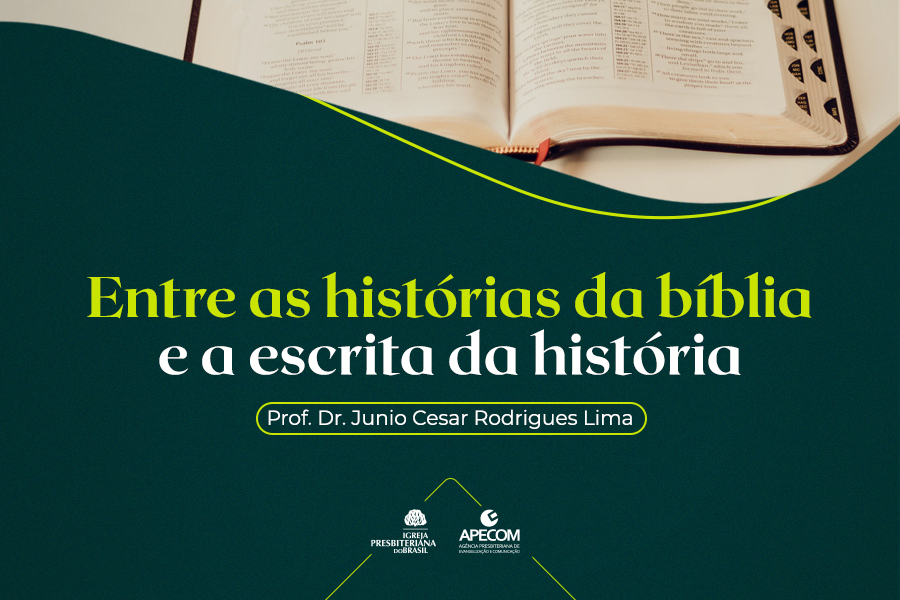
Categoria: Artigos
Data: 18/07/2023
ENTRE AS HISTÓRIAS DA BÍBLIA E A ESCRITA DA HISTÓRIA
Prof. Dr. Junio Cesar Rodrigues Lima¹
RESUMO
Alguns historiadores contemporâneos possuem extrema dificuldade em tratar a Bíblia como um documento histórico. Parece-nos que tal dificuldade se deve ao fato de que muitos graduandos em História procuram desenvolver trabalhos acadêmicos tendo, como elemento desencadeador, a comprovação de pressupostos que se encontram no campo da fé e da abordagem teológica e, não necessariamente, da História. O objetivo desse paper é fomentar essa discussão e averiguar a possiblidade de diálogo interdisciplinar entre Teologia e História, a fim de que a leitura e interpretação dos textos bíblicos seja mais abrangente.
PALAVRAS-CHAVE: Documento Histórico; Área de Conhecimento; História; Teologia; Diálogo Interdisciplinar.
A Bíblia se trata de um documento histórico?
Muitas vezes, o pano de fundo ou contexto sociocultural que acompanha essa pergunta está impregnado de pressupostos que tem mais a ver com o senso comum que com a pesquisa científica. Geralmente quem faz essa indagação simplesmente quer saber se todos os fatos registrados na Bíblia podem ser comprovados historicamente ou encontram guarida no tempo e no espaço; como se disso dependesse o fortalecimento da fé. No entanto, muitos cristãos esquecem que a fé religiosa não precisa ser comprovada e nem deve, porque no instante em que isso acontecer, ela perde a sua identidade para aquilo que pode ser visto, certificado e transitará no terreno do que é concreto e palpável, perdendo assim a sua essência.
Muitas vezes, o pano de fundo ou contexto sociocultural que acompanha essa pergunta está impregnado de pressupostos que tem mais a ver com o senso comum que com a pesquisa científica. Geralmente quem faz essa indagação simplesmente quer saber se todos os fatos registrados na Bíblia podem ser comprovados historicamente ou encontram guarida no tempo e no espaço; como se disso dependesse o fortalecimento da fé. No entanto, muitos cristãos esquecem que a fé religiosa não precisa ser comprovada e nem deve, porque no instante em que isso acontecer, ela perde a sua identidade para aquilo que pode ser visto, certificado e transitará no terreno do que é concreto e palpável, perdendo assim a sua essência.
Qualquer historiador que se preze jamais encontrará uma comprovação científica para teofanias, animismos, jumentas falando, mar se abrindo, gente andando sobre as águas, nem mesmo para a ressurreição de alguém depois de três dias de morto. Isso não quer dizer que, enquanto sujeito, um historiador não possa acreditar em todas essas coisas. Mas, todas elas permanecerão no âmbito da fé e no campo da Teologia.
A História, enquanto Ciência Humana, trabalha com outros parâmetros e se propõe a outro tipo de abordagem. No entanto, isso nunca a impedirá de dialogar com a Teologia, pois, como disse o historiador Ciro Flamarion, a História precisa dialogar com outras áreas de conhecimento a fim de cumprir seus objetivos, mantendo “[...] o contato e o debate permanentes com outras ciências sociais, incluindo a importação de problemáticas, métodos e técnicas de tais ciências [...]” (CARDOSO, 2007, pp. 42-43).
Logo, o diálogo com a Teologia pode ajudar o historiador em seu trabalho; principalmente porque o seu objeto de pesquisa, ou seja, o indivíduo, a sociedade, a cultura, a política e o político, o espaço organizado, aquilo que é simbólico e representativo, as narrativas e os discursos possuem uma relação estreita com a cosmogonia e a cosmologia expressas em uma cosmovisão teológica, como acontece nas sociedades que produziram os textos bíblicos. Olhar para o indivíduo (em nosso caso, tanto os personagens quanto os autores bíblicos) significa entrar em contato com uma memória discursiva, com sua formação política e sociocultural que, por sua vez, é múltipla e atemporal, ainda que ele não tenha plena consciência disso. Entretanto, ainda hoje, alguns historiadores têm extrema dificuldade para adotar a Bíblia como documento histórico.
Aliás, é preciso entender aqui que, apesar do cristianismo ter códices bíblicos variados desde a Antiguidade, todos os escritos considerados canônicos sempre se tratou de livros independentes que, por isso, possuíam condições de produção, sujeitos locutores e interlocutores, recorte historiográfico e objetividade diferentes. Não havia a necessidade de realizar qualquer tipo de harmonização entre esses escritos. A linearidade histórica que o cristianismo ocidental conhece e, às vezes inconscientemente adota como fato histórico, foi construída por Eusébio de Cesareia (séculos III e IV d.C.) em sua obra “História Eclesiástica”, onde ele mesmo declarou quais eram os objetivos de sua produção literária.
Registrar as sucessões dos santos apóstolos e os tempos transcorridos desde o surgimento de nosso Salvador até nós; enumerar a magnitude dos feitos registrados pela história eclesiástica e os que nela se sobressaíram no governo e presidência das igrejas mais ilustres, assim como quantidade daqueles que em cada geração, de viva voz ou por escrito, foram os embaixadores da palavra de Deus; consignar quantos, quais e quando, absorvidos pelo erro e levando ao extremo suas fantasias, proclamaram publicamente a si mesmos introdutores de um mal chamado saber e devastaram sem piedade, como lobos cruéis, o rebanho de Cristo; apresentar as desventuras que se abateram sobre toda a nação judia depois que concluíram sua conspiração contra nosso Salvador, assim como também o número, o caráter e o tempo dos ataques dos pagãos contra a divina doutrina, e a grandeza de quantos por ela, segundo a ocasião, enfrentaram o combate em sangrenta tortura; relatar os martírios de nosso próprio tempo e a proteção benévola e propícia de nosso Salvador. Ao empreender a obra não tomarei outro ponto de partida que o princípio dos desígnios de nosso Salvador e Senhor Jesus, o Cristo de Deus (EUSÉBIO, HISTÓRIA ECLESIÁSTICA, LIVRO I.I II).
Para tanto nós, depois de reunir o que achamos de aproveitável para nosso tema daquilo que estes autores mencionam aqui e ali, e colhendo, como de um prado espiritual, as frases oportunas dos velhos autores, tentaremos dar corpo a uma trama histórica e estaremos satisfeitos por poder preservar do esquecimento as sucessões, se não de todos os apóstolos de nosso Salvador, ao menos dos mais importantes nas Igrejas mais ilustres que ainda hoje são lembradas (EUSÉBIO, HISTÓRIA ECLESIÁSTICA, LIVRO I.IV).
E começarei, como disse, pelas disposições e a teologia de Cristo, que em elevação e grandeza excedem ao homem. Já que, efetivamente, quem se disponha a escrever as origens da história eclesiástica deve necessariamente começar por remontar se à primeira disposição de Cristo mesmo pois foi d'Ele mesmo que tivemos a honra de receber o nome mais divina do que possa aparecer ao vulgo (EUSÉBIO, HISTÓRIA ECLESIÁSTICA, LIVRO I.VII VIII).
Entretanto, não se pode confundir a História Eclesiástica com a História da Igreja. A primeira possui um compromisso com a Teologia Cristã e a confessionalidade. A segunda se propõe a fazer uma abordagem mais científica dos temas que emergem da história da igreja cristã, em suas mais variadas formas de expressão cultural, social, política, econômica e tantas outras manifestações.
A Bíblia, como nós a conhecemos, nasceu em 1455, quando Gutenberg fez a primeira publicação dela, após a invenção da imprensa. O historiador francês Roger Chartier se dedica ao estudo crítico dos textos, literários ou não, canônicos ou esquecidos, decifrados nos seus agenciamentos e estratégias; bem como, a história dos livros e de todos os objetos que contém a comunicação do escrito; além disso, ele também analisa as práticas que, diversamente, se apreendem dos bens simbólicos, produzindo usos e significações diferençadas (CHARTIER, 1991, p.178). Em sua obra “O Mundo Como Representação”, ele afirma que a leitura não é somente uma operação abstrata de intelecção: é pôr em jogo o corpo; é inscrição num espaço; relação consigo e com o outro. Por isso, segundo ele, não há texto fora do suporte que lhe permita ser lido (ou ouvido); não há compreensão de um escrito, qualquer que seja, que não dependa das formas pelas quais atinge o leitor. Chartier distingue dois conjuntos de dispositivos e os caracteriza como indispensáveis: aqueles que provêm das estratégias de escrita e das intenções do autor; e os que resultam de uma decisão do editor ou de uma exigência da oficina de impressão. “Os autores não escrevem livros: não, escrevem textos que outros transformam em objetos impressos” (CHARTIER, 1991, p.182).
Logo, é preciso dizer que cada texto bíblico possui um recorte historiográfico específico que não pode ser desprezado durante uma abordagem histórica, sob pena de comprometimento da leitura e da interpretação dos fatos e das narrativas que emergem das narrativas. “O documento não é qualquer coisa que fica por conta do passado, é um produto da sociedade que o fabricou segundo as relações de forças que aí detinham o poder [...]” (LE GOFF, 1990).
Não há como desvendar as condições de produção dos textos bíblicos, sem que o analista, seja ele, linguista, historiador ou teólogo coloque esses discursos em contato com a sua exterioridade, seus co-textos e contextos.
[...] Os estudos discursivos visam pensar o sentido dimensionado no tempo e no espaço das práticas do homem, descentrando a noção de sujeito e relativizando a autonomia do objeto da Linguística. Em consequência, não se trabalha, como na Linguística, com a língua fechada nela mesma, mas com o discurso, que é um objeto sócio-histórico em que o linguístico intervém como pressuposto. Nem se trabalha, por outro lado, com a história e a sociedade como se elas fossem independentes do fato de que elas significam (ORLANDI, 2003, p. 16).
Isso então quer dizer que a Bíblia pode ser considerado um documento histórico? Essa mesma pergunta foi externada por um aluno em uma das aulas de História Antiga durante a minha graduação. A professora prontamente disse que não. A resistência dela ao admitir a Bíblia como documento estava mais pautada no preconceito ou no senso comum que em uma discussão que foi vencida no início do século XX, momento em que os historiadores da Escola dos Annales na França, negaram uma história positivista, contada apenas de cima para baixo e pautada em documentos escritos oficiais, para aderir a uma história problema, a variação dos tipos de documentos e a relativização das fontes oficiais.
Foi nesse período que Marc Bloch declarou que “a diversidade dos testemunhos históricos é quase infinita. Tudo o que o homem diz ou escreve, tudo o que fabrica, tudo o que toca pode e deve informar-nos sobre ele” (BLOCH apud Le GOFF, 1990, p.89).
Seria uma grande ilusão imaginar que a cada problema histórico corresponde um tipo único de documento, especializado para esse uso [...] que historiador das religiões se contentaria em consultar os tratados de teologia ou as recolhas de hinos? Ele sabe bem que sobre as crenças e as sensibilidades mortas, as imagens pintadas ou esculpidas nas paredes dos santuários, a disposição e o mobiliários das tumbas, têm pelo menos tanto para lhe dizer quanto muitos escritos (BLOCH apud LE GOFF, 1990).
Lucien Febvre também afirmava que:
A história fez-se, sem dúvida, com documentos escritos. Quando há. Mas pode e deve fazer-se sem documentos escritos, se não existirem [...] faz-se com tudo o que a engenhosidade do historiador permite utilizar para fabricar o seu mel, quando faltam as flores habituais: com palavras, sinais, paisagens e telhas; com formas de campo e com más ervas; com eclipses da lua e arreios com peritagens de pedras, feitas por geólogos e análises de espadas de metal, feitas por químicos. Em suma, com tudo o que, sendo próprio do homem, dele depende, lhe serve, o exprime, torna significante a sua presença, atividade, gostos e maneiras de ser (FEBVRE apud Le GOFF, 1990, p.89).
Logo, se para o historiador contemporâneo documento é tudo o que o homem produz, por que tanta discussão sobre a utilização da Bíblia como documento histórico? Por que alguns historiadores têm tanta dificuldade até para citar a Bíblia em suas referências bibliográficas? Acredito que tal controvérsia resida no fato de que muitos graduandos cristãos confundem uma abordagem teológica da Bíblia com uma produção historiográfica que faça uso dela como documento.
É claro que, como disse Edward Carr, a história se trata de uma série de julgamentos aceitos. No entanto, essa máxima entre os historiadores não pode ser utilizada para minimizar a análise crítica da Bíblia enquanto documento histórico. O status de um fato como fato histórico depende de interpretação. Os fatos falam apenas quando o historiador os aborda. É ele quem decide quais os fatos que vêm à cena e em que ordem ou contexto. O historiador tem a dupla tarefa de descobrir os poucos fatos importantes e transformá-los em fatos da história e de descartar os muitos fatos insignificantes como não históricos. Os fatos mesmos se encontrados nos documentos, ou não, precisam ser processados pelo historiador antes que se possa fazer qualquer uso deles.
A Bíblia pode ser considerada como um documento histórico. Mas lembre-se de que os autores não estavam preocupados em construir narrativas históricas no sentido moderno e contemporâneo; nem mesmo os cronistas palacianos. Assim, um historiador deve tratar a Bíblia como qualquer outro documento histórico e buscar os indícios dos contextos sociais, políticos, culturais, econômicos e tantas outras circunstâncias que funcionaram como condições de produção para cada discurso bíblico.
Ao exercer o seu ofício, um historiador não se limitaria aos textos canônicos. Jamais trabalharia com o conceito de livros apócrifos. Para ele, não há harmonizações, revelação progressiva, intervenção divina, Palavra de Deus, inspiração etc. Esse tipo de abordagem pertence ao campo da Teologia. E não há problema nenhum com a escolha desse modelo de análise, simplesmente deve-se admitir que se trata de uma abordagem teológica, ou seja, uma área de conhecimento científico que, às vezes até dialoga com a História como no caso do surgimento da Teologia Histórica, mas que se difere do modelo de abordagem científica de um historiador. Caso contrário, críticas como a do professor Ciro Flamarion (e com toda razão), continuarão a acontecer.
Os livros bíblicos, na maioria dos casos, pelo menos no contexto da civilização ocidental (e até mesmo naquele do Islã), não são tratados do mesmo modo que as outras fontes antigas disponíveis. E se isso é assim no tocante às tentativas de reconstruir as origens de Israel, os estragos possíveis à seriedade dos debates serão ainda maiores quando se tratar de assuntos propriamente religiosos [...]. [...] como é atestado pelo horror que sentem muitos orientadores de monografias ou dissertações – entre os quais me incluo – quando aparece algum cristão marcadamente religioso que, sendo aluno de História, decida escolher (como costuma acontecer, infelizmente) assuntos bíblicos para seu trabalho de fim de curso ou sua dissertação de mestrado (CARDOSO, 2005, p. 218).
O trabalho principal do historiador não é registrar, mas avaliar. Os fatos da história nunca chegam a nós puros. Eles são sempre refratados através da mente do registrador, disse Edward Carr. Logo, o que historiadores, geógrafos, antropólogos, sociólogos, linguistas e analistas de discursos buscariam na bíblia? Provavelmente, uma leitura política, social, cultural, geográfica, antropológica, linguística, literária ou tantas outras abordagens que proporcionam uma leitura sócio-histórica mais abrangente. E isso sem desconsiderar a cosmovisão, a cosmogonia e a cosmologia da sociedade que produziu e recebeu cada um desses escritos.
Devido ao diálogo interdisciplinar, os limites entre política, cultura e sociedade estão cada vez mais difíceis de definir. Investigar a organização social das comunidades culturais que emergem dos textos bíblicos, as vinculações dessas comunidades com outros centros de poder, bem como, a economia doméstica, as relações de parentesco, conceitos de direito comum e diversas ações e funções no âmbito doméstico contribui, por exemplo, para a uma abordagem mais completa das relações políticas estabelecidas entre judeus, judeanos e não-judeus, em diversos recortes historiográficos.
Resta-nos então a seguinte pergunta: o que um teólogo buscaria na Bíblia? Certamente, algumas circunstâncias similares, mas, fundamentalmente, a utilização da História para obter a compreensão, comprovação ou a formação de uma verdade bíblico-teológica confessional que defina os princípios morais, estabeleça os padrões éticos, contribua para o exercício da espiritualidade, bem como, para o desenvolvimento do cristianismo na sociedade, a partir da transformação do indivíduo. E esse não é e nunca será o objetivo da História.
No entanto, como bons teólogos, em vez de pensarmos nas contradições disciplinares, deveríamos trabalhar para que exista uma abordagem teológica mais abrangente, a partir do diálogo interdisciplinar, entre as mais variadas áreas de conhecimento que compõem as Ciências Humanas e as Ciências Sociais, sem prejuízo para fé e a confessionalidade. Pois, para um bom teólogo, a Filosofia, História, Geografia, a Sociologia e a Antropologia sempre estarão a serviço da Teologia, ou seja, serão utilizadas para que o ser humano compreenda o fim principal de sua existência. “Porque dele e por ele, e para ele, são todas as coisas; glória, pois, a ele eternamente. Amém” (ROMANOS, CAPÍTULO XI, v. 36).
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ASSMANN, Aleida. Espaços da recordação: formas e transformações da memória cultural. Campinas: Editora Unicamp, 2016.
AUGÉ, Marc. Não-lugares: introdução a uma antropologia da Supermodernidade. São Paulo: Papirus. 2007.
____________ O sentido dos outros: atualidade da antropologia. Petrópolis: Vozes, 1999.
____________ Por uma antropologia dos mundos contemporâneos. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1997.
BLOCH, Marc. Apología de la historia: o el ofício del historiador. México: Fundo de Cultura Economica, 2001.
CARDOSO, C. F. S. Narrativa, sentido, história. São Paulo: Papirus, 1997.
CARDOSO, C. F. S. Uma introdução à história. São Paulo: Brasiliense, 2007.
CARDOSO, Ciro Flamarion. Um historiador fala de teoria e metodologia, Ensaios. Bauru, SP: Edusp, 2005.
CARR, Edward Hallet. O que é história? São Paulo: Paz e Terra, 2002.
CERTEAU, Michel de. A escrita da história. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1982.
CHARTIER, Roger. A história cultural – entre práticas e representações. Alges: DIFEL, 2002.
CHARTIER, Roger. O mundo como representação. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/ea/v5n11/v5n11a10.pdf. Acessado em 3 de março de 2011.
DELGADO-VELASCO, Argimiro. Introducción in: CESAREA, Eusébio de. Historia Eclesiástica. Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos, 2001.
EUSÉBIO DE CESAREIA. História Eclesiástica. São Paulo: Editora Novo Século, 1999.
LE GOFF, Jacques. História e Memória. São Paulo: Editora da Unicamp, 1990.
ORLANDI, Eni. Análise do discurso: princípios e procedimentos. Campinas: Fontes, 2003.
RÉMOND, René. Por uma história política. Rio de Janeiro: FGV, 2010.
ROSANVALLON, Pierre. Por uma história do político. São Paulo: Alameda, 2010.
ROSENDAHL, Zeny. Espaço e Religião: uma abordagem geográfica. Rio de Janeiro: UERJ, NEPEC, 1996.
__________________; CORRÊA, Roberto Lobato. Economia, cultura e espaço. Rio de Janeiro: EdUERJ, 2010.
__________________; CORRÊA, Roberto Lobato. Espaço e cultura: pluralidade temática. Rio de Janeiro: EdUERJ, 2008.
SAHLINS, Marshall. Ilhas de história. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1997.
Nota: [1] Autor do livro Flávio Josefo: o paradigma de
circularidade cultural entre as comunidades judaicas e a sociedade romana na
Urbs do século I d.C., pesquisador do Núcleo de Estudos da Antiguidade - UERJ
desde 2008, fazendo parte da linha de pesquisa CNPq Discurso, Narrativa e
Representação. Possui doutorado e mestrado pelo Programa de Pós-graduação em
História da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, com área de concentração
em História Política e linha de pesquisa Política e Cultura. Sua tese de doutorado
versou sobre o tema Cesareia Marítima: uma análise sociocultural do plano
urbanístico de Herodes Magno no século I d.C. Nela ele desenvolveu os conceitos
de Identidade Interseccional, Ponto de Referência Mnemônica, Discurso Urbano
Materializado e Etnocidade. Professor de História do Pensamento Cristão,
Didática, Prática do Ensino, Andragogia, Educação Cristã, Metodologia
Científica e Prática da Pregação do Seminário Teológico Presbiteriano Ver.
Ashbel Green Simonton. E-mail: revjuniocesar@gmail.com
circularidade cultural entre as comunidades judaicas e a sociedade romana na
Urbs do século I d.C., pesquisador do Núcleo de Estudos da Antiguidade - UERJ
desde 2008, fazendo parte da linha de pesquisa CNPq Discurso, Narrativa e
Representação. Possui doutorado e mestrado pelo Programa de Pós-graduação em
História da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, com área de concentração
em História Política e linha de pesquisa Política e Cultura. Sua tese de doutorado
versou sobre o tema Cesareia Marítima: uma análise sociocultural do plano
urbanístico de Herodes Magno no século I d.C. Nela ele desenvolveu os conceitos
de Identidade Interseccional, Ponto de Referência Mnemônica, Discurso Urbano
Materializado e Etnocidade. Professor de História do Pensamento Cristão,
Didática, Prática do Ensino, Andragogia, Educação Cristã, Metodologia
Científica e Prática da Pregação do Seminário Teológico Presbiteriano Ver.
Ashbel Green Simonton. E-mail: revjuniocesar@gmail.com
